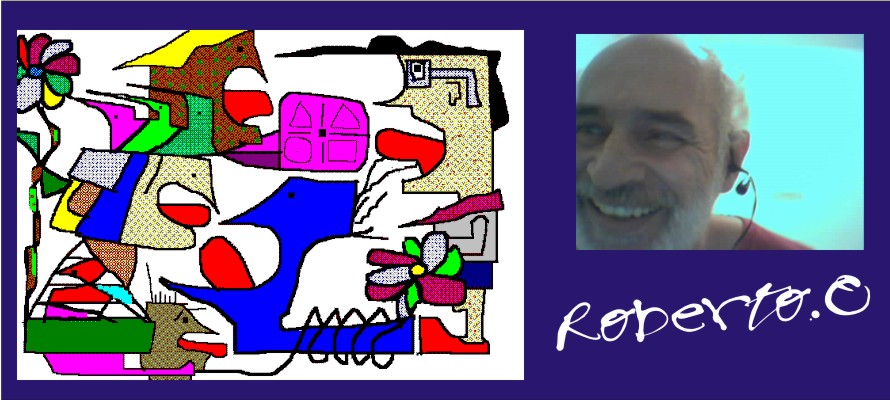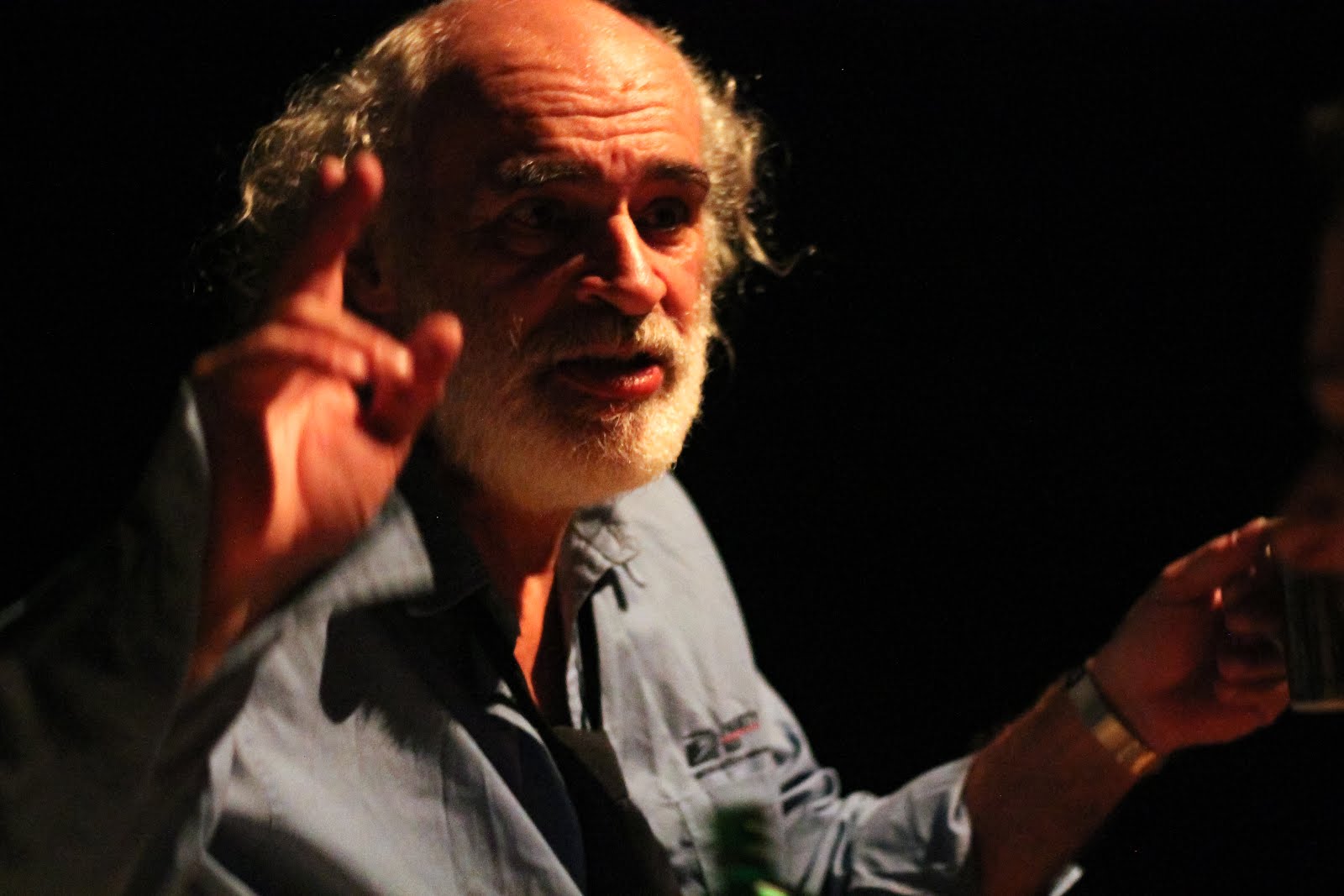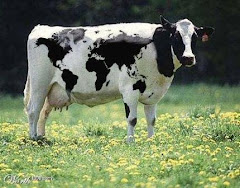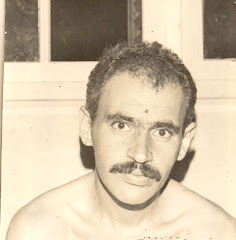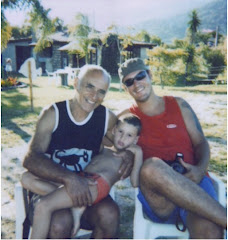A vidinha nem sempre foi boa pra mim, mas mesmo assim me acho um sujeito de sorte. Não daquela sorte de nascer num berço de ouro, ou ter uma bela herança esperando por mim no fim do arco-íris, mas uma sorte pequena, necessária para que se tenha um bocado de felicidade e certas facilidades. Uma vez apenas a minha sorte manifestou-se como uma sorte de ganhar prêmios. Via de regra eu podia (e posso até hoje) entrar em qualquer concurso, apostar em qualquer jogo ou loteria, comprar qualquer rifa, que não ganharia de jeito nenhum. Mas ganhei um carro. Ganhei um Fiat 147 zerinho, no tempo que o Fiat 147 era o lançamento mais importante e moderno da Fiat. Quando me deram a notícia por telegrama não acreditei. Gastei o telegrama de tanto desdobrar para ler e dobrar novamente, incrédulo sempre, para guardar no bolso e logo abrir novamente para reler mais uma vez e adivinhar se era mesmo verdade.
Foi num daqueles concursos em que a gente escreve uma frase criativa sobre um produto, no caso Chicletes Adams, e a melhor frase ganha um prêmio, no caso o carro. Não era um carro qualquer, quer dizer, o que dava uma originalidade no carro era a pintura. O carro foi pintado como se fosse uma caixinha de chicletes e como o formato do veículo se prestava parecia mesmo que eu dirigia uma caixinha de chicletes. Era uma pintura bacana. Tão bacana que o pessoal da polícia se invocou e na hora de fazer a transferência e passar o carrinho para o meu nome, os babacas disseram que com aquela pintura não dava pra transferir porque era proibido e de acordo com a lei tal, número tal, do livro tal, não era possível. Eu tinha que pintar o carro de branco. Vendi o carro e comprei uma Brasília semi nova. Mas ganhei o carro com uma frase que era assim: Em caso de alta tensão, abra a caixinha e desligue-se. Não sei se era realmente boa, nem se foi realmente escolhida, talvez tenha sido sorteada, mas, de uma ou de outra forma, o carro foi meu.
Foi num daqueles concursos em que a gente escreve uma frase criativa sobre um produto, no caso Chicletes Adams, e a melhor frase ganha um prêmio, no caso o carro. Não era um carro qualquer, quer dizer, o que dava uma originalidade no carro era a pintura. O carro foi pintado como se fosse uma caixinha de chicletes e como o formato do veículo se prestava parecia mesmo que eu dirigia uma caixinha de chicletes. Era uma pintura bacana. Tão bacana que o pessoal da polícia se invocou e na hora de fazer a transferência e passar o carrinho para o meu nome, os babacas disseram que com aquela pintura não dava pra transferir porque era proibido e de acordo com a lei tal, número tal, do livro tal, não era possível. Eu tinha que pintar o carro de branco. Vendi o carro e comprei uma Brasília semi nova. Mas ganhei o carro com uma frase que era assim: Em caso de alta tensão, abra a caixinha e desligue-se. Não sei se era realmente boa, nem se foi realmente escolhida, talvez tenha sido sorteada, mas, de uma ou de outra forma, o carro foi meu.